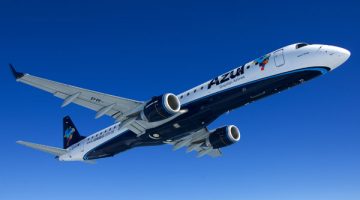Quando o químico italiano Primo Levi -que muito mais tarde receberia o prêmio Nobel de Literatura- foi entregue ao campo de concentração de Auschwitz, no final de 1944, após uma jornada desumana de quatro dias de sede, fome e frio, ele e seu grupo foram deixados numa sala com uma torneira.
Um aviso em alemão, pintado na parede, proibia os prisioneiros de beber a água imprestável, cheirando a pântano.
Levi narrou em “É Isto Um Homem?”: “Isto é o inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim: uma sala grande e vazia, e nós, cansados, de pé, diante de uma torneira gotejante mas que não tem água potável, esperando algo certamente terrível, e nada acontece, e continua não acontecendo nada. Como é possível pensar? Não é mais possível; é como se estivéssemos mortos”.
Para quem acabara de ler o livro no trem da Deutsche Bahn que leva a essa cidadezinha no sul da Polônia, foi notável ver na parede de um dos antigos dormitórios dos prisioneiros, desenhadas há quase sete décadas, palavras idênticas.
Em Auschwitz, o tamanho impressiona. Visto de longe, o campo de concentração principal lembra um quartel. A percepção muda na entrada, que mantém as letras de ferro que dizem: “O trabalho liberta”.
Como o visitante vê nas provas exibidas pelo museu -como centenas de latas usadas nas câmaras de gás-, nunca se tratou de trabalho, mas de uma política de extermínio colocada em prática primeiro pela fome e pelas execuções, depois pelas doenças e, por último, pelas câmaras de gás.
Permanecem intactos a câmara do forno crematório da construção principal. No chão, sempre há flores levadas pelos visitantes. Alguns dos antigos blocos de prisioneiros agora abrigam exposições de arte permanentes e temporárias.
O museu descreve que 1,1 milhão de prisioneiros foram executados em Auschwitz entre 1940 e 1945 – e, 90% deles, eram de origem judaica.
Rubens Valente
da Folha de S.Paulo, em Berlim